Carta IEDI
A Política Industrial para o Desenvolvimento
A Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) é um marco na política industrial brasileira por resgatar um programa mais abrangente de promoção da indústria e também porque se harmoniza com um conceito mais atual de política industrial. O balanço da PDP no período 2008-2010 pode ser considerado positivo, muito embora, devido à crise internacional, suas metas estabelecidas para o período 2008-2010 não tenham sido atingidas. Apesar disso, ajudou a economia brasileira a superar o contágio da crise, através, sobretudo, dos programas do BNDES.
Como dito acima, a PDP avançou em termos de política industrial moderna. Agora, diante das grandes transformações econômicas e sociais pelas quais o mundo passa, que reforçam o imperativo da concorrência, abre-se, a nosso ver, um novo ciclo para esta política no Brasil. Nesse sentido, os esforços devem ser direcionados para garantir que a política industrial se consolide como um instrumento permanente e qualificado para o aumento da produtividade, para o incentivo ao investimento, para a promoção da competitividade e da inovação da indústria nacional, tudo isso em prol do desenvolvimento do País.
A PDP pode ser reforçada ou aprimorada em muitos dos seus pontos, tais como:
- Caberia valorizar mais as cadeias produtivas que agregam maior valor, que são mais intensivas em tecnologia e difusoras de inovação. A perspectiva de maior crescimento de longo prazo da economia autoriza que venhamos a conceber programas mais ousados de atração de inversões internas e internacionais para os setores de tecnologia.
- Uma política mais ambiciosa de formação de recursos humanos também merece maior atenção da política industrial, o que poderia ser estimulado pela aproximação do Ministério de Educação, das instituições já existentes de fomento à pesquisa e aperfeiçoamento de pessoas e das demandas das empresas.
- Um ponto crucial será reforçar e ampliar as medidas para área de exportação de manufaturas. Além de avançar na desoneração tributária das exportações, é preciso centrar esforços para conciliar, com mais eficácia, as restrições impostas por acordos e negociações internacionais e os objetivos da política industrial. Deve-se reconhecer também que a diplomacia brasileira pode atuar como uma grande aliada da PDP. Reforçar nosso setor exportador passa também por medidas que visam a aumentar a internacionalização das empresas brasileiras e dotá-las de maior capacidade inovadora.
No campo de sua coordenação e gestão a PDP deveria merecer uma reflexão em profundidade. A estrutura de governança da PDP é bem formulada. No entanto, é imprescindível que sua execução prime pela celeridade e não fique comprometida por falta de decisão e coordenação das iniciativas ou pela divisão de poderes. Nesse aspecto, a PDP poderia talvez se inspirar no que foi feito no PAC, que tinha no titular da Casa Civil uma liderança com autoridade para articular instrumentos, coordenar ações e cobrar resultados.
A questão da sustentabilidade é um ponto fraco da PDP. Sabe-se que as sociedades estão cada vez mais exigentes com relação a um crescimento sustentável e que fronteiras de investimento estão aparecendo de forma exponencial nessa área. Caberia à PDP identificar setores promissores voltados para a produção de bens e tecnologias “verdes” e contemplá-los em sua política. Um estudo ainda inédito do IEDI sobre as experiências de diversos países nessa área mostrou que estão se desenvolvendo grandes oportunidades de negócios em setores ligados à chamada economia verde.
Quanto aos mecanismos de incentivo/apoio utilizados pela nova política industrial, seria importante dar maior abrangência e articulação ao assim chamado instrumento de “compras governamentais”. Por exemplo, envolvendo os gastos em setores em que é muito elevado o investimento social feito pelo setor público, como saúde e educação. Evidentemente, a conexão da política industrial com as atividades econômicas e os negócios que serão gerados pela exploração do pré-sal é condição essencial para a própria existência da política.
Se um dos mais relevantes objetivos da nova política industrial é propiciar um salto de competitividade do setor industrial, será fundamental aprimorar os incentivos e estabelecer metas para um maior aumento da produtividade da indústria. O mesmo pode ser dito quanto à inovação empresarial. Trabalho recente do IEDI apresenta uma série de sugestões de aperfeiçoamentos dos mecanismos já existentes voltados à inovação, como, por exemplo, os de renúncia fiscal, de financiamento reembolsável, financiamento não-reembolsável e subvenção econômica.
Por último, mas não menos importante, podem ser citados pontos para os quais a política industrial brasileira, visando o seu bom andamento, também deve se voltar: ligação mais consistente com as políticas macroeconômicas e microeconômicas; incentivos específicos para a superação das diferenças regionais; melhoria do ambiente econômico das micro e pequenas empresas.
O Conceito de Política Industrial. O que é a política industrial atualmente? Numa primeira aproximação, pode-se definir a política industrial como “... essencialmente um mecanismo de coordenação de ações estratégicas do governo e de empresas visando o desenvolvimento de atividades indutoras de mudança tecnológica ou de solução de problemas identificados por esses atores no setor produtivo da economia” (Suzigan, Wilson e João Furtado, “Política Industrial e Desenvolvimento”, in: Revista de Economia Política, vol. 26, nº 2 (102), abril-junho, 2006, p.175).
Essa definição já traz em si um sentido muito mais amplo, e por isso correto, do que deve ser entendido por política industrial; e, por esse motivo, tal definição se distancia daquele “sentido clássico” de política industrial, a qual se restringe a políticas setoriais que têm como finalidade corrigir falhas de mercado (como, por exemplo, economias externas, falhas de coordenação e informação assimétrica) que trazem ineficiências ao sistema produtivo.
A política industrial, num conceito abrangente, deve contemplar não somente setores e atividades industriais indutoras de mudanças tecnológicas, mas também os ambientes econômico e institucional, já que estes condicionam a evolução das estruturas de empresas e indústrias e da própria organização institucional. Ou seja, todos esses fatores devem ser considerados na política industrial porque são determinantes da competitividade sistêmica da indústria e, consequentemente, do próprio desenvolvimento econômico (Suzigan, Wilson e João Furtado, “Política Industrial e Desenvolvimento”, in: Revista de Economia Política, vol. 26, nº 2 (102), abril-junho, 2006, p.165).
Assim, o objetivo específico da política industrial é, em última instância, fortalecer a competitividade da indústria, sempre com vistas a uma estratégia de desenvolvimento. Ou ainda, a política industrial deve ser vista como um componente de uma estratégia de fortalecimento da indústria e parte indispensável de uma política mais geral de desenvolvimento, a qual, além do setor industrial, deve contemplar outros setores da economia e as instituições (em sua acepção mais geral) do país – incluindo instituições de apoio à indústria, infra-estrutura, normas e regulamentações. Isso faz da política industrial não um fim em si mesma, mas um meio destacado para o desenvolvimento (A Políca de Desenvolvimento Industrial: o que é e o que representa para o Brasil, IEDI, abril de 2002).
Em outras palavras, a política industrial “... não é meramente uma política para a indústria, mas uma política de estruturação, reestruturação, aprimoramento e desenvolvimento das atividades econômicas e do processo de geração de riquezas. E se a indústria é o fulcro da política, isto se deve à sua capacidade de irradiar efeitos sobre o sistema econômico” (Suzigan, Wilson e João Furtado, “Política Industrial e Desenvolvimento”, in: Revista de Economia Política, vol. 26, nº 2 (102), abril-junho, 2006, p.175).
Estudo realizado em 2002 pelo IEDI destacava outros pontos fundamentais para a boa compreensão da concepção atual da política industrial. Em primeiro lugar, a política industrial, enquanto política de promoção da competitividade, deve ser indissociável da concorrência, da atualização tecnológica e do aumento da produtividade, não sendo seus objetivos criar e disseminar setores e empresas privilegiadas, ineficientes e que sobrevivam à sombra da proteção e do subsídio.
Segundo, dado que a globalização torna necessária a renovação da competitividade em caráter permanente, a política industrial, do mesmo modo, deve ter caráter permanente, ou ainda, deve ser continuamente renovada.
Terceiro, a política industrial não se coloca como alternativa ou se contrapõe à execução de políticas e ao desenvolvimento dos demais setores da economia. A política industrial e o consequente desenvolvimento industrial constituem fatores adicionais de estímulo ao desenvolvimento da agricultura, dos serviços e das atividades financeiras.
Quarto, a política e o desenvolvimento industrial não são incompatíveis com a estabilidade inflacionária e o controle das contas públicas, como mostram as experiências de vários países que desfrutam de grande crescimento industrial e são praticantes de ativas políticas industriais. Pelo contrário, a política industrial e as políticas macroeconômicas (e mesmo as microeconômicas) devem estar alinhadas, sempre tendo como objetivo o crescimento e o desenvolvimento do País.
Por fim, mas não menos importante, a política industrial deve ser entendida como um processo que visa influenciar o funcionamento dos mercados, dotando-os de dinâmicas novas e melhores, sem suprimir ou substituir sua lógica. Em outras palavras, à política industrial não cabe fazer as vezes das forças dos mercados e da concorrência, “... mas sim, compreendendo-as, lançar mão delas em prol dos seus propósitos e do desenvolvimento” (Suzigan, Wilson e João Furtado, “Instituições e Políticas Industriais e Tecnológicas: Reflexões a partir da Experiência Brasileira”, in: Estudos Econômicos, São Paulo, vol.40, nº 1, janerio-março, 2010, p.39).
Ações da Política Industrial. As ações da política industrial podem, grosso modo, ser divididas em duas: ações baseadas em medidas “horizontais” e em medidas “verticais”. No primeiro caso, o alvo da política industrial é a atividade industrial em geral. No segundo, o objetivo são os setores e/ou as cadeias produtivas. Evidentemente, para a política industrial, essas duas ações não estão separadas, elas coexistem e estão diretamente inter-relacionadas.
Na concepção da política industrial, as medidas horizontais devem ser consideradas primordiais e de caráter permanente. Por sua vez, as políticas voltadas para setores e/ou cadeias produtivas devem aparecer como complementares, transitórias, com objetivos específicos e claramente definidos.
As medidas horizontais de política industrial podem contemplar, por exemplo, desde a ampliação dos investimentos em educação, infra-estrutura e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) até a redução das taxas de juros, o desenvolvimento do mercado de capitais e a adequação das fontes de financiamento de longo prazo existentes. Podem também estar dentro do escopo das medidas horizontais a reforma tributária e a flexibilização do mercado de trabalho. Diante disso, vê-se que a política industrial tem muitas interfaces com as políticas macro e microeconômicas e as instituições de um país.
Além de objetivos mais gerais que favoreçam a competitividade, a política industrial deve perseguir objetivos específicos em torno dos quais as duas ações, de corte horizontal ou vertical, devem ser coordenadas. Ou ainda, a concepção moderna de política industrial associa objetivos particulares a objetivos gerais de promoção da competitividade. Ao contrário das políticas de competitividade e das ações de corte horizontal, que devem ser permanentes, é importante frisar uma vez mais que, em todos os casos em que venham a ser executadas, as políticas setoriais devem ter objetivos específicos claros e suas ações devem ter prazo definido de duração, assim como devem ser bem definidos os eventuais incentivos concedidos e sua duração.
Como, naturalmente, cada país tem seus próprios objetivos e necessidades, o conjunto das ações e dos instrumentos das políticas horizontais e verticais deve ser considerado algo específico de cada país. Essa observação é importante, pois, devido à diversidade de objetivos, ênfases ou prioridades dos diferentes países, a definição de política industrial perdeu sua característica de ser geral, única e aplicável a qualquer situação ou país, o que explica, por exemplo, porque a política industrial, que já foi sinônimo de proteção ou de substituição de importações, não mais possa ser qualificada nesses termos.
Objetivos da Política Industrial. A política industrial tem como finalidade o desenvolvimento econômico e social. No caso do Brasil, as linhas gerais da política industrial devem contemplar: (i) a criação de bases de produção de bens de alto valor agregado, destinados simultaneamente aos mercados interno (substituição competitiva de importações) e externo (aumento de exportações); (ii) incentivos aos setores de base tecnológica, incluindo suas cadeias de insumos e componentes, bem como as atividades de P&D em que são criadas e desenvolvidas as novas tecnologias; (iii) o desenvolvimento industrial regional, com foco em ações que visem a potencializar as vocações regionais, bem como dinamizar o emprego industrial em regiões de menor desenvolvimento.
No corte setorial, a política industrial no Brasil deve ser orientada, por um lado, para setores em que, atualmente, a competitividade da indústria é maior. Como para esses setores é também maior o protecionismo internacional, a política industrial nesse caso deve ter como objetivo ampliar o acesso a mercados e a fortalecer as vantagens competitivas do produto nacional.
Sem prejuízo do desenvolvimento dos setores nos quais o Brasil já conquistou competitividade internacional, a política industrial deve, por outro lado, contemplar também o desenvolvimento e/ou a implantação de complexos industriais de produtos com maior valor agregado e alto conteúdo tecnológico. Esses produtos apresentam maior dinamismo no mercado internacional e os complexos que os produzem geram salários elevados e melhor distribuição de renda na cadeia produtiva.
Outra característica a ser destacada, no caso dos produtos de alta tecnologia, é que eles participam cada vez mais de outras cadeias produtivas, razão pela qual a sua importância, além de econômica, é estratégica. Abrir mão de seu desenvolvimento no País é colocar em risco o desenvolvimento futuro das demais cadeias produtivas.
Política Industrial e Setor Externo. A política industrial deve ter como um dos seus principais objetivos dotar o setor externo de maior solidez, ampliando as exportações e incentivando a substituição competitiva de importações, de forma a tornar o balanço comercial significativamente superavitário. Para tanto, a política industrial deve ter como foco a expansão da exportação de bens manufaturados de maior valor agregado e a substituição de importados por produção doméstica de bens que preservem um padrão de competitividade mundial.
O aumento das exportações e a produção competitiva interna de bens são as condições para que o País evite recuos em sua abertura e imprima maior velocidade ao crescimento do seu comércio exterior (exportações mais importações), sabidamente baixo para padrões internacionais.
A carência de capital e seu elevado custo no Brasil recomendam, como medidas centrais dessa política, a redução do custo de capital e a ampliação de prazos e redução dos custos dos financiamentos de longo prazo das linhas de financiamento existentes, além de ações para atrair investimentos domésticos e estrangeiros voltados, simultaneamente, à ampliação da base de exportações e à substituição competitiva de importações. No universo de economias denominadas “emergentes” há uma concorrência acirrada pela atração de investimentos que contribuam para o desenvolvimento do setor externo e a atualização tecnológica da indústria dessas economias. O Brasil precisa de políticas que fortaleçam constantemente sua posição nesse processo.
Convém esclarecer que, na hipótese de que o Brasil venha a estruturar políticas de atração de investimentos, não há porque comprometer os orçamentos públicos com eventuais incentivos que vierem a ser concedidos, se esses forem vinculados exclusivamente aos resultados de novos investimentos, os quais, sendo realizados, ampliarão a renda e as transações tributáveis.
De outra parte, se os programas de financiamento e os incentivos forem estipulados com prazo definido de duração, seria neutralizado um dos possíveis e justificadamente criticados efeitos negativos de programas e políticas de incentivo, qual seja, o de que perpetuam o incentivo, fomentando a ineficiência e a produção em bases não competitivas.
Cabe também dar relevância, dentro da política industrial, aos acordos internacionais, os quais devem servir para ampliar o acesso dos produtos brasileiros de alta competitividade internacional (casos, além de produtos agrícolas, dos produtos da agroindústria e de vários outros segmentos industriais) a mercados externos, bem como assegurar que determinadas questões consideradas fundamentais ou estratégicas para o País sejam resguardadas nas negociações.
Política Industrial no Brasil. A industrialização acelerada do Brasil no período que vai do pós-guerra ao final dos anos 1970 foi, sem margem a dúvidas, impulsionada por políticas industriais. Já, nos anos 1980, marcados pela crise da dívida, e nos anos 1990, em que sobressaíram as políticas de estabilização e as estratégias de desenvolvimento de caráter neoliberal, a política industrial – enquanto ações coordenadas destinadas a promover a competitividade, o fortalecimento e a diversificação industrial – inexistiu. Somente em 2003, no primeiro ano do primeiro mandato do presidente Lula, a política industrial começaria a renascer no Brasil com o formulação da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE).
A PITCE apareceu consubstanciada em 57 medidas e 11 programas de política e tinha, como objetivo geral, articular três planos distintos, quais sejam: linhas de ações horizontais (inovação e desenvolvimento tecnológico; inserção externa; modernização industrial; ambiente institucional; aumento da capacidade produtiva); opções estratégicas (semicondutores, software, bens de capital e fámacos); e atividades portadoras de futuro (biotecnologia, nanotecnologia, biomassa/energias renováveis). Também estipulava dois macroprogramas mobilizadores: o Indústria Forte e o Inova Brasil (Cano, Wilson, “Política Industrial do Governo Lula”, in: Os anos Lula – Contribuições para um balanço crítico 2003-2010, Rio de Janeiro, Garamond, 2010).
No entanto, se a PITCE apresentava pontos fortes (metas, foco na inovação e o reconhecimento da necessidade de uma coordenação da política industrial), ela também revelou muitas fraquezas: não tinha interface com a política macroeconômica, seus instrumentos não se articulavam e se mostraram desconectados das demandas das empresas. Além disso, a PITCE deparou-se com as carências da infraestrutura do País, do sistema de C,T&I e com a falta de comando e coordenação na sua execução (Suzigan, Wilson e João Furtado, “Política Industrial e Desenvolvimento”, in: Revista de Economia Política, vol. 26, nº 2 (102), abril-junho, 2006, p.174).
A política industrial ganhou nova estatura com o lançamento, em maio de 2008, da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) – portanto, no segundo mandato do presidente Lula. A PDP pode ser considerada um novo marco na política industrial brasileira, não só por ela resgatar um programa mais abrangente de promoção da indústria nacional, mas também porque tal programa se harmoniza, em grande parte, com o conceito mais atual e complexo de política industrial.
Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP. Em suas linhas gerais, a PDP estabeleceu como objetivo central dar sustentabilidade à expansão da economia e definiu como objetivos particulares incentivar e ampliar os investimentos produtivos, elevar as taxas de crescimento da economia brasileira e permitir que tal crescimento se dê em bases sustentáveis. Estipulou como desafios prioritários a ampliação da capacidade de oferta na economia, a elevação da capacidade de inovação das empresas, a preservação da robustez do balanço de pagamentos e o fortalecimento das micro e pequenas empresas (MPEs).
A PDP apresentou cinco programas estratégicos mais globais, chamados de Programas para Destaques Estratégicos, os quais identificavam as questões que se julgavam fundamentais para desenvolver a indústria e o País: ampliação das exportações; fortalecimento das MPEs; regionalização; integração produtiva com a América Latina e África; e produção sustentável.
A nova política industrial também estabeleceu, na sua formulação, quatro macrometas para o País a serem atingidas em 2010: (i) ampliar a participação do investimento no PIB (de 17,4% em 2007 para 21% em 2010); (ii) estimular a inovação (elevar a participação de P&D no PIB: de 0,51% em 2005 para 0,65% em 2010); (iii) aumentar a participação das exportações brasileiras no total das exportações mundiais (de 1,18% em 2007 para 1,25% em 2010); e (iv) aumentar o número de MPEs exportadoras (aumento de 10% em relação ao número de MPEs existentes em 2006).
Para que tais macrometas fossem atingidas, no que se considerou ser responsabilidade do governo, foram destacados quatro instrumentos específicos: (i) instrumentos de incentivo: crédito e financiamento, capital de risco e incentivos fiscais; (ii) poder de compra governamental: compras da administração direta e de empresas estatais; (iii) instrumentos de regulação: técnica, sanitária, econômica e concorrencial; e (iv) apoio técnico: certificação e metrologia, promoção comercial, gestão da propriedade intelectual, capacitação empresarial e de recursos humanos, coordenação intragovernamental e articulação com o setor privado.
A PDP também estabeleceu programas para 25 setores, agrupados em três blocos:
- Programas para Fortalecer a Competitividade: Bens de Capital Seriados, Bens de Capital sob Encomenda, Complexo Automotivo, Complexo de Serviços, Construção Civil, Couro, Calçados e Artefatos, Indústria Aeronáutica, Indústria Naval, Madeira e Móveis, Plásticos, Sistema Agroindustrial, Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.
- Programas Mobilizadores em Áreas Estratégicas: Nanotecnologia, Biotecnologia, Complexo da Defesa, Complexo Industrial da Saúde, Energia, Tecnologias de Informação e Comunicação.
- Programas para Consolidar e Expandir a Liderança: Celulose, Mineração, Siderurgia, Indústria Têxtil, Confecções e Carnes.
A PDP previu, em sua execução, uma renúncia fiscal de R$ 21,4 bilhões entre 2008 a 2011, com incentivos ao investimento, P&D e exportações, e financiamentos, pelo BNDES, no valor de R$ 210,4 bilhões para projetos de ampliação, modernização e de inovação na indústria e no setor de serviços – programas da Finep complementariam os esforços em P&D.
Um dos pontos relevantes apresentado na formulação da PDP, e que buscava corrigir o que não se conseguiu com êxito na PITCE, foi a ênfase dada à coordenação, gestão e monitoramento dos programas, a fim de integrar as ações governamentais de forma eficiente e viabilizar uma interlocução sistemática e produtiva com o setor privado. Para tanto, estabeleceu-se que, no nível intragovernamental, a Coordenação Geral da Política caberia ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o qual, por sua vez, contaria com o apoio de uma Secretaria-Executiva, formada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o BNDES e o Ministério da Fazenda. Além disso, para promover a articulação entre a política industrial e as ações sistêmicas de governo, a estrutura de governança da PDP previu um Conselho Gestor.
Destaca-se também que, para todos os programas, foram constituídos comitês-executivos, compostos por representantes dos órgãos de governo afetos ao tema ou sistema produtivo, definindo-se, em cada caso, a instituição gestora e o técnico responsável pela coordenação das ações previstas. Foram estabelecidas como funções desses comitês fortalecer a articulação intragovernamental, assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos, dar suporte à coordenação geral no monitoramento de resultados e encaminhar aperfeiçoamentos em seus respectivos programas, bem como prestar contas à coordenação da PDP.
Ainda no espírito de fortalecer a governança da PDP, estabeleceu-se que o monitoramento programático da Política se daria por meio do Sistema de Gerenciamento de Projetos – SGP. Para promover a articulação entre os setores público e privado, caberia ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) atuar, em acordo com sua missão institucional, como instância superior de debate, aperfeiçoamento, validação e monitoramento da PDP, analisando a evolução dos programas, indicando possíveis realinhamentos, e identificando oportunidades para novos programas e iniciativas. A PDP previa que, a cada seis meses, o Conselho Gestor deveria prestar contas ao CNDI, assim como o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) também deveria ser consultado e informado, periodicamente.
Ao mesmo tempo, instituiu-se que os demais mecanismos de interlocução existentes fossem fortalecidos e aprimorados, como os fóruns de competitividade, as câmaras de desenvolvimento, as câmaras setoriais, as câmaras temáticas e os grupos de trabalho. Determinou-se também que outra importante instância de articulação público-privada seriam os Planos Estratégicos Setoriais (PES), desenvolvidos pela ABDI, em parceria com representantes dos setores público e privado, em seus respectivos comitês gestores.
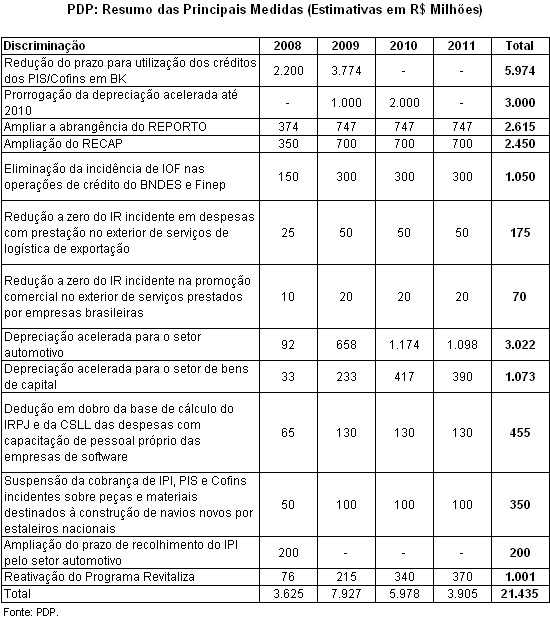
Desempenho da PDP. De acordo com os vários relatórios disponíveis para consulta pública no Portal da PDP (http://www.pdp.gov.br/Paginas/Default.aspx), o balanço da PDP no período 2008-2010 pode ser considerado positivo. Das 425 medidas de política propostas pela Política (29% relacionadas a financiamento, 31% a assistência técnica e informações, 26% a medidas fiscais, 8% a regulamentação e 6% a comércio internacional), praticamente todas elas (99%) foram postas em pleno funcionamento (41% dessas estavam relacionadas à meta de investimento; 29% às exportações; 20% à inovação e 10% ao desenvolvimento da MPEs).
Já, das quatro macrometas previstas na PDP para o período 2008-2010, três não atingiram seus objetivos. A participação do P&D empresarial em relação ao PIB, cuja meta prevista era de 0,65%, alcançou somente a marca de 0,59% em 2010 (partindo de uma base de 0,51%). O número de MPEs no total de empresas exportadoras, cuja meta era aumentar em 10% em 2010 com relação a 2006, caiu 16%. A participação da Formação Bruta de Capital Fixo no PIB, cuja meta era sair dos 17,4% em 2007 para 21,0% em 2010, deve ficar em torno de 19,0%. Somente a meta relacionada às exportações foi atingida: previa-se que as exportações brasileiras chegassem, em 2010, a uma participação de 1,25% das exportações mundiais, e o resultado provável é que atinjam um valor de 1,35%.
É verdade que o alcance das macrometas foi limitado pelo contexto econômico de crise internacional que eclodiu em 2008 e se arrastou por boa parte de 2009. O cenário de retração econômica mundial – juntamente com a forte valorização do real, não se pode esquecer esse ponto – certamente teve impactos negativos sobre os investimentos, os gastos em P&D e o número de MPEs exportadoras no Brasil. No caso das exportações brasileiras, o êxito de se atingir a meta deveu-se mais pelo fraco desempenho das exportações mundiais nos últimos anos e menos pelas medidas ligadas à PDP – além do que, vale dizer, o valor das exportações do Brasil foi substancialmente beneficiado pelo maior aumento dos preços das commodities, sejam agropecuárias ou da extrativa mineral, relativamente aos preços dos bens manufaturados.
Os relatórios da PDP (e seu Portal) apresentam também um rol vastíssimo de medidas tributárias, regulatórias, de financiamento, de defesa comercial criadas/estimuladas pela PDP para cada uma das macrometas (ampliação dos investimentos, ampliação das exportações, elevação do gasto privado em P&D e dinamização das MPEs).
No que diz respeito à ampliação do investimento no País, podem ser destacadas:
- Lei nº 11.774/08, de incentivos fiscais, estabeleceu a redução, de 24 para 12 meses, do prazo de apropriação dos créditos tributários gerados na aquisição de bens de capital relativos ao PIS/PASEP e à COFINS, bem como a instituição da depreciação acelerada, em 20% do tempo normal, de máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de bens de capital;
- Lei nº 12.349/2010, ao alterar a lei de licitações (Lei nº 8.666/1993), estabelece a utilização do poder de compra do Estado na preferência por bens e serviços nacionais;
- Criação do Regime Especial de Incentivos Tributários para a Indústria Aeronáutica Brasileira (Retaero);
- Incentivos fiscais para o desenvolvimento regional do complexo automotivo;
- Alterações nas condições de oferta de recursos ofertados pelo BNDES, destacando-se: (i) o aumento do capital social do BNDES; (ii) redução do spread médio do conjunto de linhas de financiamento do BNDES, de 1,4% para 1,1%; (iii) redução do spread médio do BNDES na comercialização de bens de capital, de 1,5% para 0,9%; (iv) redução da taxa de intermediação financeira cobrada nos repasses das instituições financeiras, de 0,8% para 0,5%; e (v) duplicação do prazo de financiamento para a indústria no produto FINAME, de cinco para dez anos.
Para alavancar as exportações brasileiras, de acordo como o relatório de balanço da PDP, foram lançadas mais de 175 medidas. Aqui são destacadas as seguintes medidas e ações:
- Devolução de créditos tributários federais acumulados nas exportações, que prevê a devolução de 50% dos créditos de PIS/Pasep, Cofins e IPI, em até 30 dias após a solicitação;
- Exclusão da receita de exportações para enquadramento no Simples, que possibilita a permanência de empresas do regime tributário Simples;
- Drawback Isenção no mercado interno, que permite que a exportação realizada em período anterior dê direito, no período corrente, à aquisição de insumos nacionais com alíquota zero de impostos e a redução do custo do financiamento à exportação de bens de consumo;
- Aprimoramento dos Regimes Aduaneiros Especiais Aplicados em Áreas de Incentivo às Exportações, como a ampliação do Drawback Verde-Amarelo;
- Ampliação de instrumentos financeiros, como o Programa de Financiamento às Exportações (PROEX).
Com relação à elevação capacidade de inovação das empresas brasileiras (terceira macrometa), deve-se observar que, já na sua primeira versão, a PDP previa um esforço conjunto com o Plano de Ação de Ciência, Tecnologia & Inovação (PACTI) do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) para alcançar tal objetivo. Principais medidas e ações:
- Criação dos critérios de distribuição das parcelas de lucros e royalties para Biotecnologia e a Indústria Marítima;
- Novas regras para investimento em C&T estabelecidas por meio da Lei nº 12.349/2010;
- Implantação do CEITEC – Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A., primeira fábrica brasileira de semicondutores para circuitos integrados;
- Investimentos em capacitação e adequação tecnológica para a produção de componentes pesados da indústria nuclear;
- Instituição do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL);
- Criação do Programa Um Computador por Aluno (PROUCA);
- Definição dos princípios da coordenação modular para a construção civil.
No âmbito do BNDES, registram-se medidas como:
- Implantação de três linhas de apoio à inovação (Capital Inovador, Inovação Tecnológica e Inovação Produção);
- Programa de Sustentação do Investimento (PSI) e, dentro dele, o PSI Inovação;
- Programa BNDES Proengenharia, que prevê financiamento de gastos de engenharia no Brasil, para os setores automobilístico, de bens de capital, defesa, nuclear, aeronáutico, cadeia de fornecedores de petróleo, gás e indústria naval criado;
- Cartão BNDES com inclusão dos serviços para o apoio à inovação;
- Criação do Programa Fundos de Investimento do BNDES (para Biotecnologia, Nanotecnologia, Petróleo & Gás, Agronegócios);
- Programa BNDES Proplástico, nova linha de financiamento destinada à Cadeia Produtiva do Plástico, criado em junho de 2010.
Para a quarta macrometa, destacam-se as seguintes medidas de incentivo às exportações das MPEs:
- Extensão do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), por meio da Lei nº 11.786, de 25/09/10, e Resolução CAMEX nº 29, de 23/05/08, para as empresas que possuem faturamento bruto anual de até R$ 60 milhões e exportações anuais de até US$ 1 milhão, o que beneficiou, portanto, não somente as micro e pequenas empresas, mas também as médias;
- Programa de Internacionalização das MPEs do SEBRAE, que permitiu a oferta de ferramenta on-line de apoio ao micro e pequeno exportador com metodologia para autodiagnóstico e cursos de capacitação;
- Execução do Projeto de Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas – PAIIPME, pela ABDI/MDIC, que contemplou 34 projetos em 24 Estados;
- Aperfeiçoamento dos programas de fomento e desenvolvimento da cultura exportadora, a exemplo do Aprendendo a Exportar, Primeira Exportação, Encontros de Comércio Exterior, Rede Agentes e Rede Cicex;
- Definição, por meio de Portaria do MCT e no âmbito da Lei Geral de MPEs (Lei Complementar nº 123/2006), que no mínimo 20% do total de recursos aplicados pelas esferas de Governo e agências de fomento em P&D e capacitação tecnológica devem ser destinados a programas de inovação para MPEs;
- Criação do Programa de Subvenção à Pesquisa em Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Pappe Integração), para fomentar a inovação e garantir que 30% dos recursos do FNDCT sejam destinados a elas.
- Instalação dos Fóruns Regionais para promover o cumprimento da Lei Geral das MPEs;
- Regulamentação do Consórcio Simples e dos Consórcios de MPEs;
- Aprovação de novos itens financiáveis no Cartão BNDES e o aumento do seu limite;
- Concessão de Seguro de Crédito nas fases pré e pós-embarque para exportadoras com até R$ 60 milhões em faturamento;
- Criação de instrumentos de garantia de crédito (Fundo Garantidor de Investimento – BNDES FGI, Fundo de Garantia de Operações – FGO, Fundo Mercosul de Garantias a MPEs e estímulo a criação das Sociedades de Garantia de Crédito).
- Implantação do Programa de Metrologia e Qualidade Industrial para MPEs.
Proposições para uma PDP II. A PDP avançou muito em termos de política industrial moderna, seja no estabelecimento de metas e na explicitação das ações para sua execução, seja na elaboração de seus instrumentos e de sua governança, ou mesmo na identificação das suas fontes de financiamento e dos setores estratégicos para o desenvolvimento de atividades indutoras de mudança tecnológica e de difusão da inovação. Agora, diante das grandes transformações econômicas e sociais pelas quais o mundo passa, que reforçam o imperativo da concorrência, abre-se um novo ciclo para a política industrial no Brasil. Mas, isso não significa que ela deva mudar de rumos ou passar por revista circunstanciada. Pelo contrário. Os primeiros esforços devem ser direcionados para garantir que a política industrial se consolide como um instrumento permanente e qualificado para a promoção da competitividade da indústria nacional e do desenvolvimento do País.
Toda política industrial é passível, evidentemente, de ser aperfeiçoada. Essa é, em verdade, uma necessidade sua, já que seu objeto de interesse e atuação – o sistema produtivo industrial – é de natureza dinâmica. A política industrial brasileira deve seguir sempre pelo caminho do aprimoramento. O seu êxito estará em ser ao mesmo tempo ambiciosa (na qualidade de instrumento do desenvolvimento) e comedida (por zelar pela alocação eficiente dos recursos, reconhecidamente, escassos).
A PDP pode ser reforçada ou aprimorada em muitos dos seus pontos. Em primeiro lugar, caberia valorizar mais as cadeias produtivas que agregam maior valor, que são mais intensas em tecnologia e difusoras de inovação. Uma política mais ambiciosa de formação de recursos humanos também merece maior atenção da política industrial, o que poderia ser estimulado pela aproximação do Ministério de Educação, das instituições já existentes de fomento à pesquisa e aperfeiçoamento de pessoas e das demandas das empresas.
Um ponto crucial é reforçar e ampliar as medidas e ações para área de exportação, sobretudo no que diz respeito ao segmento exportador de manufaturas. A PDP não reúne um conjunto de ações estruturadas para uma política de fortalecimento das exportações. Além de avançar na desoneração tributária das cadeias de bens produzidos para exportação, é preciso centrar esforços para conciliar, com mais eficácia, as restrições impostas por acordos e negociações internacionais e os objetivos da política industrial. Deve-se reconhecer também que a diplomacia brasileira pode atuar como uma grande aliada da PDP. Reforçar nosso setor exportador passa também por medidas que visam a aumentar a internacionalização das empresas brasileiras.
Outro ponto diz respeito à coordenação e gestão da PDP. Indiscutivelmente, a estrutura de governança da PDP é muito bem formulada. No entanto, é imprescindível que sua execução prime pela celeridade e não fique comprometida por falta de decisão e coordenação das iniciativas ou pela divisão de poderes – já que a política industrial necessariamente abrange várias áreas e instâncias de governo. Nesse aspecto, a PDP poderia talvez se inspirar no que foi feito no plano do governo na área de infraestrutura, o PAC, que tinha na então Ministra Chefe da Casa Civil Dilma Rousseff uma liderança com autoridade para articular instrumentos, coordenar ações e cobrar resultados. Vale dizer que essa liderança “visível” também possibilitaria à sociedade saber de quem cobrar pelo andamento da política industrial.
A questão da sustentabilidade é um ponto fraco da PDP. Sabe-se que as sociedades estão cada vez mais exigentes com relação a um crescimento sustentável. Muitos negócios e muitas oportunidades estão aparecendo de forma exponencial nessa área. O Brasil não pode retardar sua estratégia de desenvolvimento sustentável. Num futuro não distante, a concorrência também se pautara por bens produzidos de modo sustentável. Caberia à PDP identificar setores promissores voltados para a produção de bens e tecnologias “verdes” e contemplá-los em sua política. Estudo realizado pelo IEDI (“Recomendações para o Desenvolvimento da Economia Verde”, in: Contribuições para uma Agenda de Desenvolvimento do Brasil. IEDI, dezembro de 2010.) mostrou grandes oportunidades de negócios em setores ligados a energias renováveis (de fonte eólica e solar fotovoltaica, além de biocombustíveis e biodiesel), algo que pode ser de grande interesse para o País.
Quanto aos mecanismos de incentivo/apoio utilizados pela nova política industrial, a PDP precisa dar maior abrangência e articulação ao assim chamado instrumento de “compras governamentais”. Por exemplo, envolvendo os gastos em setores em que é muito elevado o investimento social feito pelo setor público, como saúde e educação. Evidentemente, a conexão da política industrial com as atividades econômicas e os negócios que serão gerados pela exploração do pré-sal é condição essencial para a própria existência da política.
Se o objetivo da política industrial é propiciar um salto de competitividade do setor industrial nacional, será fundamental aprimorar os incentivos à inovação empresarial. No final de 2010, o IEDI lançou outro estudo (“A Política da Inovação”, in: Contribuições para uma Agenda de Desenvolvimento do Brasil. IEDI, dezembro de 2010.) que apresenta uma série de sugestões de aperfeiçoamentos dos mecanismos já existentes voltados à inovação, como, por exemplo, os de renúncia fiscal (Lei do Bem), de financiamento reembolsável (BNDES, FINEP) e de financiamento não-reembolsável, tanto na forma de subvenção econômica (FINEP – FNDCT) quanto de fomento à P&D em cooperação acadêmica (Fundos Setoriais – FNDCT).
Por último, mas não menos importante, podem ser citados outros pontos para os quais a política industrial brasileira, visando o seu bom andamento, também deve se voltar: ligação mais consistente com as políticas macroeconômicas; incentivos específicos para a superação das diferenças regionais; melhoria do ambiente econômico das micro e pequenas empresas; e uso mais seletivo do investimento direto estrangeiro.



